Emily voltou
Por Vivian Schlesinger
Vivian Schlesinger é bióloga e escritora. Veio a Israel visitar a filha, genro e netos, e também fazer trabalho voluntário para apoiar Israel. Sempre que vem a Israel, escreve crônicas do que vê no dia a dia. Impressões pessoais, sem qualquer pretensão de documentar os fatos…
Leia, também, o primeiro texto da série: Avós voluntários
Alguém devia ter caluniado Josef K., porque ao acordar, certa manhã, recebeu aviso de que seria julgado por cometer genocídio, sem que tivesse feito alguma coisa de mal. Atordoado, vestiu-se e foi ao fórum para descobrir onde estava o engano. Depois de atravessar um túnel escuro, labiríntico, cheio de armadilhas explosivas, encontrou uma carta assinada em código com a chancela da África do Sul. Nela também se via o brasão da Coreia do Norte, do Irã, da China e outros brasões menores, inclusive um do Brasil. Josef K. finalmente decifrou o engano: o datilógrafo, no lugar da palavra “agressor”, escrevera “vítima”, e vice-versa.
Diferentemente do Josef K. de O processo, de Kafka, esse nosso Josef K. empenhou-se em uma luta de morte e conseguiu, a enorme custo pessoal, ganhar algum tempo de sossego para continuar a se defender (enquanto não chega outra acusação invertendo vítima e algoz). Kafka morreu há 100 anos, e nos deixou de herança a certeza de que a realidade é absurda e que o absurdo é real. Verdade hoje, como há 100 anos.
Enquanto isto, Claudio e eu estamos nos acostumando a essa vida de operário de fábrica: dirigir uma hora e meia para chegar ao trabalho, dobrar milhares de sacos plásticos, montar centenas de caixas de papelão, intervalo, mais sacos plásticos ou caixas, almoço, tarde igual à manhã. Na fábrica de sacos plásticos nos colocaram juntos para fazer o trabalho que normalmente seria feito por uma pessoa só. Acho que ficaram com dó dos velhinhos… mas já que essa é a missão, dobramos plásticos como eles nunca foram dobrados, com precisão milimétrica de um casal com TOC. A diversão ficou por conta do esforço em adivinhar os comandos em russo na máquina. Russo? Exato. Desde 1989 imigraram para Israel quase um milhão e meio de cidadãos da União Soviética (devem ter se entediado daquela vida segura, da liberdade, da fartura). Hoje, um em cada quatro israelenses é ucraniano ou russo da Geórgia, do Uzbequistão, da Bielorússia. Na brincadeira, dizemos que a segunda língua mais falada em Israel é o hebraico.
Na fábrica de embalagens plásticas em que trabalhamos esses dias, não vimos nem um funcionário que não fosse russo. Boris, nosso supervisor, é um dos mais jovens, com cerca de 40 anos. Vários parecem ter nossa idade (70), e operam máquinas sofisticadas, carregam caixas pesadas, falam pouco, trabalham muito. Bem diferente da fábrica de papelão, que fica a poucas quadras de distância. Lá, operários mais jovens, de vários continentes, parecem mais soltos. Os africanos são os mais amistosos, falam sem parar, seja com a gente ou com outros, seja por celular – 100% do tempo entubados em fones de ouvido. Zuma, minha jovem chefe etíope, trabalha por uma hora ou menos, aí circula, conversa com um, com outro, sempre rindo, sempre o brilho no olhar e a música no andar. Será que é a essa herança que devemos nossa decantada simpatia brasileira? Será que há um gene para simpatia? E nesse caso, podemos replicá-lo?
Em russo, árabe, hebraico ou amárico, sei que ontem o grande assunto era Eden Golan. Não conhece? Nem eu conhecia… mas agora sei que é a artista escolhida para representar Israel no Eurovision, concurso musical anual, este ano em Malmö, Suécia. Eden Golan tem 20 anos, é alta, magérrima, olhos quase orientais e longos cabelos em vários tons de rosa. Ela nasceu em Israel, cresceu na Rússia, faz parte de uma banda de garotas. Tem respostas ingênuas a perguntas óbvias sobre ter medo do palco, sobre quando começou a cantar (todos começamos a cantar na infância, não?), sobre como concilia estudos e vida artística (como se fosse possível). É uma garota normal que canta bem, talvez muito bem. Como qualquer garota da sua idade, deveria ter liberdade para escolher seu caminho, apresentar-se aonde quer que seu talento a levasse. Mas assim como Josef K., Eden está descobrindo que a realidade é absurda. Que há grupos políticos na Suécia, Finlândia, e outros países, que querem impedir que ela, ou qualquer artista israelense, participe do Eurovision. Isso porque ela e sua música com certeza são culpadas da guerra em Gaza. Do que será que eles têm medo? Que ela conquiste, com sua ingenuidade, seu olhar de dois mundos, a simpatia daqueles que a virem como ela é, e não como um símbolo? Não sei se Eden é uma das favoritas, não ligo a mínima para Eurovision, mas se for para cancelar países em um evento artístico por seus atos políticos, acho que só sobram Mônaco e Lichtenstein. Se sobrarem.
A tentativa de cancelar Eden Golan é uma maneira de impor a discussão sobre a guerra em cada mesa de restaurante, mas o israelense lida com isso de outra forma. Não se sente a guerra. Trabalha-se, vai-se ao cinema, os shoppings estão cheios. No trânsito, os israelenses brigam, ultrapassam pela direita, xingam com as mãos. Vida normal. Os moradores das cidades do sul e do norte, deslocados para locais mais seguros, estão começando a voltar para suas casas. É difícil explicar esse país a alguém que nunca esteve aqui. A filha universitária de um senhor sequestrado está em semana de provas. Ela está estudando. Levanta-se todos os dias na hora certa, prepara seu lanche, vai às aulas, paga suas contas, presta os exames. Com certeza chora em alguns momentos, liga e desliga a TV com raiva e esperança, mas a vida? Essa não para.
Passado o choque do massacre (a raiva ainda não passou, nem vai) comecei a pensar em como seriam as relações entre israelenses judeus e israelenses árabes após a guerra. Cerca de 2 milhões de árabes têm cidadania israelense, vivem e trabalham em Israel, pagam impostos, usufruem do sistema de saúde e de educação, votam livremente (há vários membros do Parlamento que são árabes), como qualquer outro israelense. Dos enfermeiros, aqui, 55% são árabes; dos médicos, são 40%, para citar só um campo de atividade. Não são obrigados a servir o exército – os homens judeus sim, são, por 32 meses, e mulheres judias, por 24 – mas há milhares de árabes israelenses que se apresentam espontaneamente para o serviço militar.
Mas.
7 de outubro divide o tempo em um antes e um depois. E confiança só existe se for de duas mãos. Como vai ficar isso? Por enquanto, não se vê mudança: no shopping que mais frequento, 100% classe média, judeus e árabes estão convivendo pacificamente. Praticamente todas as vendedoras na Zara são árabes, e no mínimo 50% dos consumidores, também. Sentamo-nos lado a lado (e na cultura mediterrânea, lado a lado é quase coxa com coxa) nos cafés, nos parques, compramos os mesmos esmaltes, moletons, brincos.
Mas.
Os árabes falam árabe entre si, hebraico com os outros. Aqui se aprende árabe na escola. Noam, meu neto de quase 14 anos, que tem enorme facilidade para línguas, está aprendendo a escrever árabe. Fica exasperado com as múltiplas formas de uma mesma letra, dependendo se está no meio ou no fim da palavra, etc. Mas gosta. Vai falar mais essa, além do hebraico, português (a mãe é brasileira), castelhano (o pai é argentino), inglês (aprendeu sozinho jogando videogame). Não haverá barreira de idioma entre judeus e árabes em Israel. A barreira, se houver, será de outra natureza. O árabe israelense, ao menos em tese, aceita a existência do Estado de Israel. Não canta a o mantra assassino “from the river to the sea…”. Ele sabe que Israel fica precisamente entre o river e o sea, e que para o Estado Palestino incluir essa área, Israel teria o destino de Atlântida. Isso sim, genocídio. Podemos ficar tranquilos que o árabe israelense prefira viver como está? No dia a dia do israelense, a pergunta parece já estar respondida.
A triste piada é que todos já devem ter visto jornalistas perguntando a manifestantes nas demonstrações pró-Hamas (pois é, pró-terroristas – a realidade é absurda) em Londres, Paris, São Paulo, de que river e de que sea se fala. Invariavelmente, a resposta é a cara de ué dos entrevistados. “Black sea…?” “Pacific…?” Dã.
Na fábrica de plásticos nosso trabalho ontem era dobrar sacos grandes que saem rápido e com um suspiro de uma máquina, um material muito liso e transparente. A cada 50 suspiros, dobramos o conjunto em 3 partes, repetimos a operação para mais 50, e a 4 mãos inserimos os 100 em um envelope plástico de medidas perfeitas. Aí fechamos e transferimos cada pacote para uma caixa do tamanho de uma casa de bonecas, life-size. A cada 3 minutos sai um conjunto de 50 sacos, então ao final de algumas horas, a casa de bonecas vai se enchendo, e nós, idem. Mas compromisso é compromisso. Suspira daqui, suspira dali, eu sonhando com uma coca light, e eis que toca um alarme inconfundível: mísseis. Tzeva adom, cor vermelha. Esse é o nome do alarme. Estávamos a poucos passos do quarto antimísseis, então não houve a menor dúvida, fomos sem correr, com calma e celular em punho, junto com mais seis russos e duas russas para dentro. O chefe – fica imediatamente claro quem é o chefe nessas horas – fechou a porta, e começamos a olhar uns aos outros, esperando o sinal para sairmos. Silêncio. O “domo de ferro”, um equipamento de alta tecnologia, detecta ao longe quando um míssil é disparado na direção de Israel e automaticamente dispara contra-mísseis para destruir o que vem, ainda no ar. Há uma explosão (que eu pensei que fosse audível, mas nem sempre é), míssil inimigo é destruído por contra-míssil, fragmentos caem ao solo, ou sobre as casas, ou a qualquer coisa que por azar estiver bem ali. Tudo muito simples.
Not.
Cada disparo desses custa milhões. O “domo de ferro” é um dos maiores símbolos do valor que Israel dá à vida. Golda Meir dizia que só teremos paz com os árabes o dia em que eles amarem seus filhos mais do que odeiam os nossos. Israel usa o armamento para proteger a população. O Hamas usa a população para proteger o armamento.
Pensei que ficaríamos ali dentro um bom tempo. Passados uns dois minutos, eu me preparava para fazer um selfie de nós dois (ok, parece brega, e é, em parte), e começa um diálogo rápido em russo. Adivinhei: Vamos, vamos, se não vai virar um balagan (bagunça, em hebraico – com essa palavra deduzi o resto). O chefe, que por seus modos me lembrava Vronsky, amante de Anna Karenina, achou ótima ideia, abriu o abrigo e saímos como se nada tivesse acontecido. De fato, nada aconteceu. O míssil provavelmente caiu em algum campo. Mais tarde soubemos pela minha filha que deveríamos ter ficado ali no mínimo 10 minutos, até que todos os eventuais fragmentos caíssem. Mas a população de Sderot está ao lado de Gaza, tem 15 segundos para se abrigar. Há 8 ou 10 anos eles são bombardeados diariamente. Tzeva adom faz parte da rotina. Nada de pânico, nem um café depois, nada. Vida que segue.
Ah, o abrigo? De fora parece um banheiro químico obeso, mas com travas tipo cofre de banco na porta. Por dentro, limpíssimo, iluminado, equipamento para ventilação, uma cápsula perfeita para viagem no tempo. O selfie que eu ia tirar não era completamente inútil, eu queria avisar a família que estávamos bem. Todos têm um aplicativo no celular, no qual você seleciona as cidades que interessam, e toda vez que tocar o alarme em uma delas, ele tocará também no seu celular. Mas tudo voltou ao normal em poucos minutos. Logo depois, Boris, nosso supervisor, passou por cada um para saber se estava tudo bem, sem drama. Comparado ao tiroteio na minha rua, em São Paulo, há duas semanas, onde dois pilantras tentaram assaltar uma mulher e tiveram a ingrata surpresa de escolher uma delegada… ela se defendeu muito bem, os dois acabaram no chão, um baleado mas vivo, o outro desmoralizado. Foi muito mais emocionante. Em poucos minutos havia 15 viaturas no local. Quando nos dizem que somos corajosos de vir a Israel durante uma guerra, sempre respondo que coragem é morar em São Paulo, no Rio, em Arraial d’Ajuda…
Emily voltou. Liguei a TV e lá estava ela. Ruivinha, pele muito clara, olhos meigos, distantes. O sorriso é contido. Enquanto seu pai conversa com a jornalista, Emily olha para o chão ou para o pai, mas se lhe fazem perguntas, ela se volta diretamente à pessoa e responde, sorrindo ao final de cada frase. A voz é contida. As mãos, muito comportadas para uma menina de 9 anos. Sabemos que ela mudou. Ela gostava de cantar e dançar com sua amiga Hila, mas no dia 7 de outubro Emily, Hila, e Raani, mãe de Hila, foram sequestradas. Emily e Hila foram devolvidas. Raani, ainda não. Enquanto estavam reféns, Raani cuidou das duas, rasgou um pedaço de sua roupa para poder banhar as meninas quando e onde era possível. Cortou-lhes o cabelo, para facilitar o cuidado. Foi uma mãe para Emily, mas não está com ela agora.
Raani foi a terceira mãe de Emily. Sua mãe biológica, Liat, e Thomas, seu pai, viviam em cidades diferentes quando ela nasceu. Quando Emily tinha dois anos, Liat foi diagnosticada com câncer, então mudou-se para o Kibutz Be’eri, onde Thomas vivia, para que a criança pudesse se acostumar ao pai quando a mãe não estivesse mais. De fato, poucos meses mais tarde, Liat faleceu. Thomas e Narkis, sua ex-esposa, criaram Emily. No dia 7 de outubro, Emily não estava em casa, dormia na casa de Hila. Narkis foi assassinada em casa pelos terroristas.
Enquanto refém, Emily era levada para esconderijos diferentes a cada poucos dias, obrigada a ficar em silêncio, sob a mira de uma faca. Em alguns momentos, havia até 8 homens lhe ameaçando. Após 50 dias ela foi devolvida, junto com Hila. Thomas pesava 65kg até 7 de outubro, pesa 52kg desde então. Ele temia que sua filha estivesse muito decepcionada por ele não ter conseguido protegê-la, mas quando finalmente pôde vê-la, soube que ela imaginou que ele também tivesse sido assassinado. Enquanto era arrastada para Gaza, ela havia visto dezenas de corpos. Seu tempo, enquanto presa pelo Hamas, foi de luto pelo pai. O pai, por sua vez, de início recebeu a notícia que Emily havia morrido, o que lhe deu um certo alívio: ele não conseguia enfrentar as possibilidades, se ela estivesse viva nas mãos desses demônios. Mas quando descobriu que ela estava viva, sua alma encheu-se de alegria. No dia 25 de novembro, aniversário da minha filha, Emily foi devolvida. Lembro-me de não conseguir conter as lágrimas ao vê-la “abraçada” pelos funcionários da Cruz Vermelha, esses parasitas hipócritas. Durante os 50 dias de seu cativeiro não tiveram sequer a dignidade de exigir que o Hamas lhes deixassem ver os reféns. E agora, perante as câmeras, faziam esse teatro. Se Emily sobreviveu, assim como os outros, não foi graças a Cruz Vermelha, e sim apesar dela. Emily gostava de cantar e dançar, seu coraçãozinho de 9 anos teve corda para 50 dias. Por enquanto ela ainda fala baixo, às vezes sussurra sem necessidade. Verifica várias vezes se a casa está bem trancada. Usa nome de alimentos que não gosta para indicar palavras inomináveis: terroristas são azeitonas. Gaza é a caixa. 50 dias foi um ano. Mas ela voltou, ela os derrotou. O demônio não pode com um anjo.


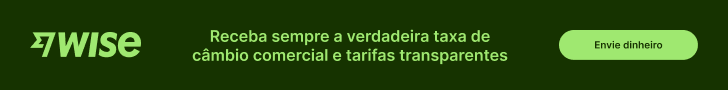




Fantástica crônica de Vivian Schlesinger! Bem baseada em fatos, percepção aguda do que aqui se passa: nota 10! Que tal contratá-la para escrever sempre para Bras.il?
(Não sou parente nem a conheço, OK?)
Escreve muito bem.Leitura leve .Acho muito simpatica!
Lendo os post escritos pela Vivian Schlesinger sempre que vejo um. Escrita viva, cheia de côr e humanidade, revejo Israel através das palavras que leio. Os detalhes que leio me enchem o coração! Quero mais…
Muito legal!!😍 Parabéns!
Concordo plenamente com a Alegria !
Vivian ama Israel e descreve fielmente a nossa realidade. Obrigada pelo trabalho voluntário e por saber ouvir e entender os israelenses, russos, àrabes, etíopes…. Estamos aguardando a próxima crônica ( tomara que seja a volta de todos os sequestrados).