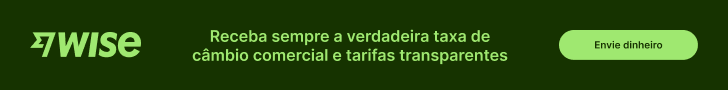Diário de guerra
Por Lúcia Barnea. Antropóloga social e escritora. Raanana, Israel. luciabarnea@hotmail.com
Publicado em Arquivo Maaravi: Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte, v. 18, n. 34, maio 2024. ISSN: 1982-3053
Sentadas na grama. Somados os anos, não chegavam à minha meia-idade.
Céu azul de aquarela, vento segredando na pele a proximidade da primavera. Mais adiante, estava a cerca, as casas, a alameda.
Três meninas, de costas para o mundo, de frente para mim, que assistia à rua, morta de gente.
Falávamos de livros, de teatro, sonhadoras de dias de paz, que nos permitissem respirar o tédio de uma manhã sem alarmes.
Aos poucos, depois mais, o branco povoava, além do gradil, a procissão de bandeiras azul e branco, à espera do cortejo. Um tanto mais altos que mais baixos, passos curvados, calados, sem expressão. Derrotados, sós, sem ritmo, reféns de seu fardo, desovando à rua principal.
A inocência das três meninas teimava em sorrir, saltar, bailar, elaborar uma ação para a biblioteca que envolvesse a todos – crianças ensinando crianças de diversas idades. Como se não houvesse o além-da-cerca e o presente não batesse à porta com as notícias do dia, como se o sete de outubro existisse apenas em algum universo paralelo. Seus nove anos testemunhavam guerra, dor, perda, temor. Mas queriam viver, exercer o seu direito à infância.
Meses a cronometrar o minuto e meio, ao soar o alarme, para alcançar o abrigo antimíssil e introduzir, ordenadamente, cerca de 400 crianças; a recepcionar alunos novos refugiados das fronteiras norte e sul do país; a acompanhar filhos de soldados reservistas em ação no front; a criar condições para uma rotina de aprendizagem improvável. Noites mal dormidas, vidas ceifadas, famílias desarraigadas, projetos engavetados, sonhos extirpados, colheitas incineradas, agricultura abandonada, cidades-fantasma, sirenes a toda hora do dia e da noite, pânico, tristeza, violência, mortos, feridos, órfãos de pais, avós, irmãos, filhos e netos – de todas as idades. Não há, em todo o universo de todas as línguas, palavras que bastem para percorrer os sulcos de expressão de um pai diante do cadáver de seu filho; dos labirintos de temor de uma mãe, mulher, filha, avó, namorada, amiga… ao se despedir de seu soldado, face ao dever de cumprir com seu destino. Tempos de guerra.
Holocausto, pogrom, chacina, violência, corpos mutilados, amputados, assassinados, esquartejados, não identificados, sequestrados, reféns, inseguros, angustiados, tristes, ansiosos, desesperançosos, traumatizados, sofredores, vítimas de transtorno de estresse pós-traumático… fragmentos de um léxico inaugurado em outubro.
Como se do nada surgissem passos chorosos, amigos, conhecidos e não, parentes, curiosos, empenhados em oferecer seu quinhão em homenagem ao soldado da Cidade recém-tombado, compartilhando silêncio e dor. Mas minhas alunas não sabiam, absortas pela nesga de criatividade literária que singrava as copas das árvores e esparramava alegria anil ao céu.
Era eu quem chorava o soldado que conheci sorrindo, sobre quem perguntava, semanalmente, à mãe, que por meses batalhou e me protegeu a mim e a minha família, e que agora percorria seu caminho inerte, seguido de centenas de cidadãos que agora conheceriam sua bravura. Mais além do perímetro da escola, onde a vida castigava a população com o diário da guerra. Era eu quem sorria, burlando a leveza pueril das minhas três meninas, no pátio interno, na escola.