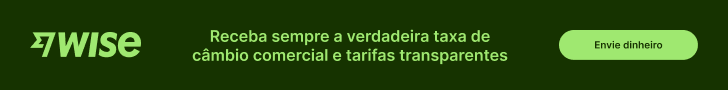Avós voluntários
Por Vivian Schlesinger
Meu nome é Vivian Schlesinger, tenho quase 70 anos, sou bióloga e escritora. Viemos a Israel visitar minha filha, genro e netos, e também fazer trabalho voluntário para apoiar Israel. Somos judeus brasileiros e acreditamos que os judeus da Diáspora só estão seguros se Israel também estiver.
Sempre que venho a Israel, escrevo crônicas do que vejo no dia a dia. Esses textos são puramente impressões pessoais, sem qualquer pretensão de documentar os fatos. A ideia é levar ao Brasil histórias de indivíduos, alegrias e dramas pessoais com os quais qualquer um, judeu ou não, possa se identificar; mostrar que o israelense é humano, para fazer frente ao antissemitismo rejuvenescido.
1.
Chegamos na quarta-feira. Não fossem as fotos dos sequestrados ao longo da passarela de chegada ao aeroporto, você pensaria que são tempos normais. Muita gente viajando, lojas abertas, trânsito quase como São Paulo. No caminho para a casa da Julie, bandeiras. Muitas. Enormes. Janelas, varandas, fachadas dos prédios ultra-high-tech, bandeiras penduradas na vertical, de dois andares de altura. De oito. De dezoito. Nas pontes, fotos: um filho, um irmão, uma avó. Há 121 dias, sequestrados, não se sabe se estão vivos, ou se já estavam mortos quando foram levados, porque aqueles selvagens tiveram esse requinte de bestialidade: levaram reféns vivos, mortos, e até partes de corpos. A cabeça de um menino foi colocada à venda em Gaza por 10 mil dólares. Por falta de mercado, ficou no freezer de um restaurante até ser encontrada pelos soldados israelenses.
Mas não há como a vida para lembrar-nos de viver. Ao ver nossos netos, minha filha, meu genro, levando vida normal, trabalhando, jogando basquete ou hipnotizados no tik-tok – tanto faz – qualquer sinal de normalidade é uma alegria. Conversamos, rimos, eles ainda falam com carinho dos dias que passaram no Brasil há pouco tempo. Surpresa gostosa: estão em contato com os amigos do Alef, a escola que frequentaram enquanto estavam em São Paulo. Noam, quase 14, quer ir para o Brasil, ir à escola. Você quer ir às aulas? – me espantei. Não, vovó, quero ver meus amigos! Ah, entendi. Vida.
Daniela me mostra o último skin care que ela absolutamente precisa comprar para sobreviver. Um concealer. Para conceal (esconder) o quê?, penso, mas não digo. Seria um absurdo uma avó que não entendesse que aos quase 12 anos aquele concealer é indispensável. Mesmo sem ele, ela segue feliz. Uma adolescente normal a mais no mundo. Com Noam acabamos falando de escola, daí para História, da matéria para o professor que ele parece adorar. Estudaram a Revolução Francesa recentemente, Noam tem perguntas ótimas. Já gostei do professor. Não dita a lição como está no livro, fala sem parar sobre muitas coisas e para a aula no momento do gancho – quando vai falar quem venceu entre Napoleão e a Prússia, diz, “na próxima aula vocês saberão!” – genial, o cara. Claro que os meninos poderiam simplesmente google it, mas ouvir desse professor é muito mais interessante. Uma joia dessas a gente encontra poucas vezes na vida.
Isso foi na quarta, logo após a chegada, direto do aeroporto. Então viemos para o hotel tentar dormir um pouco. O dia seguinte seria cheio de desafios.
2.
Na quinta fomos para Sderot, cidade ao lado de Gaza a 80 km de onde estamos, para trabalhar na fábrica à qual fomos designados pelo grupo que organiza voluntários. Existem dezenas de grupos; esse se propõe a ajudar as fábricas no sul, na fronteira com Gaza, e no norte, fronteira com o Líbano. Escolhemos o sul. Sderot é a cidade mais bombardeada pelo Hamas há muitos anos. Muita gente que trabalha lá vivia, até 7 de outubro, nos arredores, nos kibutzim que foram destruídos. Parte dos sobreviventes estão realocados em hotéis ou apartamentos no país todo, por conta do governo. Somando os realocados do sul e do norte (bombardeados pelo Hizbollah) são cerca de 100 mil pessoas. No hotel em que estamos há dezenas de famílias com crianças, cãezinhos, bebês aprendendo a andar, idosos e seus andadores. Ciclo de vida completo.
Ao chegar à fábrica de embalagens de papelão fomos apresentados a Marcelo Garzon, diretor de produção. Abriu enorme sorriso quando soube que somos do Brasil: ele é argentino, casado com uma brasileira, em Israel há décadas. Fez questão de falar todo o português que sabia até a hora do almoço. À tarde, só hebraico. Ninguém é de ferro. Mostrou-nos como destacar de uma folha de papelão a embalagem pré-picotada, uma pilha aqui, outra ali, etc. Mãos à obra. QI de 60 bastaria para isso, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Dos 50 funcionários, só 20 estão trabalhando. Os outros? Convocados, ou realocados para longe, ou sem condições de trabalhar. No questions asked. E eu, que tinha pena de motorista de uber no trânsito de São Paulo, repenso.
3.
Marcelo perguntou porque viemos a Israel, explicamos que temos filha e netos aqui, e que viemos para trabalhar. Outro sorriso sincero. Ato contínuo, o esposo de minha filha, meu genro, está sequestrado em Gaza. E também sua irmã e o namorado da irmã. Meu coração dispara. Você me contaria mais, quando tiver tempo? Claro, quero muito contar, é importante que saibam. Digo-lhe que sou escritora, quero registrar tudo.
Após uma ou duas horas fomos promovidos para outras operações em uma máquina que corta folhas enormes de papelão triplo nas dimensões programadas. Claudio e Marcelo, de um lado, alimentam a máquina, eu, de outro, retiro os pedaços e rapidamente separo os grandes à esquerda, os menores à direita. Pouco a pouco crescem duas pilhas de papelão até a minha altura (não é muito, verdade). Trabalho braçal e o fora-de-moda prazer de ver resultados concretos. Ali se produzem caixas para material de limpeza, para peças de máquinas, para pão. Fico imaginando essas caixas cheias de pães, o cheiro aconchegante de pão fresquinho subindo feito trepadeira memória adentro. Claudio me diz que o número de pedidos de embalagens é um dos indicadores do ritmo da economia. Então estamos contribuindo para esse ritmo de alguma forma.
Elizabeta se aproxima e com um sorriso, se apresenta. Sabia que era russa antes mesmo dela começar a falar. Configuração sólida, cabelos pretos em duas trancinhas finas, olhos verdeazulados, mãos rechonchudas, lisas, sem marcas da idade. Eu diria uns 30 anos, mas pelo andar, mais. Me pergunta diretamente em hebraico se estou de visita. Forte sotaque russo. Explico no meu hebraico capenga que estamos sim visitando mas também trabalhando, mitnadvim (voluntários), etc. Mais um sorriso abraço. Pergunto-lhe de onde ela é, responde em inglês que é da Rússia. De onde na Rússia, insisto? Nossa, nunca me perguntaram isso. Uzbequistão – já ouviu falar? Claro, sei exatamente onde fica (quase começo a contar que acabo de voltar a 1920 com Isaac Babel e a Cavalaria Vermelha, viajando pela guerra russo-polonesa, mas me detenho a tempo).
Aí, as trocas necessárias, a moeda mais valiosa para qualquer mãe. Ela: tenho um filho de 8 anos (que fala inglês bem!) e uma filha de 22; eu: wow, você não parece ter idade para isso!, ah, eu tenho 4 netos, quase-15, 14, 13, 12… Estico meu braço para cima em 4 alturas para dar uma ideia melhor. Elizabeta mora ali perto, mas está alocada em Tel Aviv. Viaja 3 horas por dia para não parar de trabalhar. É evidente que adora o que faz. Conversa com Marcelo, seu chefe, de igual para igual, brigam amigavelmente, ela mais mandona do que ele. Tudo na santa paz. Ela me mostra o que vamos fazer agora com o papelão que a máquina cospe com velocidade. Aprendo rápido, também. Pergunto a Elizabeta se voluntários chegando, entrando e saindo, como nós, mais ajudam ou atrapalham. Ajudam muito! Muita gente não voltou! Sobem as sobrancelhas numa expressão de preciso desenhar?
4.
Claudio é levado por Marcelo para outro lado. Sou entregue a Sanar, um rapaz da Eritreia muito alto, bonito, sisudo. Me explica como colar a aba direita de uma caixa ao lado esquerdo. Mostra bem, usa poucas palavras – em hebraico, claro – mas olhando para mim. Se posso ver sua boca, meio caminho andado. Somando meu hebraico (30%) e audição (10%), subtraindo o barulho da fábrica (80%), estou no vermelho. Tento tirar a diferença com um sorriso. Funciona! Sanar sorri de volta, me deixa sozinha com a missão da cola. Mais duas pilhas completadas.
5.
Nos chamam para almoçar. Subimos com Sanar e seu colega, outros funcionários russos, uma garota etíope, linda, com um turbante alto acentuando o oval perfeito do rosto. O refeitório é uma sala bem simples, mesas, bancos, água, um suco misterioso. A garota árabe que nos serve é uma simpatia; a comida – shnitzel, o prato nacional (peito de frango à milanesa) – salada, batata, etc., tudo ótimo. Sentam-se à mesa conosco dois homens da nossa idade, apresentam-se. Que fazem vocês aqui?, perguntam. Explicamos, isso, aquilo. Nossa vez de perguntar a eles o que fazem: são amigos. Aposentados, ambos com 72 anos. Moram longe. Uma vez por semana viajam a Sderot fazer trabalho voluntário. Fico pensando quantos de nós, no Brasil, se disporiam a dirigir 3 horas, uma vez por semana, para ajudar uma região de enchente, por exemplo? Digamos menos, dirigir 30 minutos. Nem precisa ser uma catástrofe nacional. Sei de gente que vive em Moema que não usa canudos de plástico e que entende de arte conceitual, mas que se recusa a levar o lixo do apartamento até a garagem. Que bom que não há guerra no Brasil.
Os grupos de voluntários que se organizaram aqui a partir de 7 de outubro não foram iniciativas do governo. Não foram editais do BNDES, não têm subsídio. Foram pessoas que puseram o whatsapp para fazer o que ele faz de melhor. Há gente trabalhando em fábricas, como nós. Há gente na agricultura, dirigindo tratores, colhendo morangos, programando irrigadores. Outros organizam festas de aniversário para as crianças deslocadas. Mutirões de médicos atendem as famílias nos hotéis. A secretária na clínica onde Julie trabalha, toda quinta-feira, depois de um dia normal de trabalho, faz fornadas de doces para vender. O dinheiro vai para as famílias dos reféns.
A tsedaká, caridade, é um dos maiores valores no judaísmo. Segundo aprendi, há 3 níveis: o primeiro, onde quem dá conhece quem recebe e vice-versa. O segundo, onde quem recebe não sabe de onde veio a ajuda. E o terceiro, mais elevado, onde quem dá não conhece quem irá receber, e vice-versa. Essa senhora não conhece as pessoas que recebem esse dinheiro, nem eles a ela. Mas no coração, em um país tão pequeno, sinto que todos conhecem os reféns. Eu mesma já sei os nomes de vários deles e suas histórias, e desde 7 de outubro são esses rostos que vejo antes de adormecer.
6.
Enquanto saímos do refeitório, penso como seria bom que cada ignorante que fala do “apartheid em Israel” pudesse almoçar ali ao menos uma vez na vida. Estávamos sentados nos mesmos bancos, o diretor, 3 operários, uma secretária, voluntários, muçulmanos, russos ortodoxos, judeus, beduínos. Todos comemos a mesma comida, falamos do trânsito e do shnitzel. Ali não há guerra, muito menos apartheid.
Trabalhamos até as 16 horas, o horário normal da fábrica (eu estava bem cansada, mas fica entre nós – afinal, tenho uma reputação a zelar). Antes de sair, perguntei a Marcelo quando poderíamos conversar, ele quis imediatamente. Sentamo-nos do lado de fora da fábrica, fiz uma pergunta ou duas e ele começou a contar. O Claudio gravava, eu tremia de frio (12 graus) e, ao longo do relato, de horror.
7.
Me chamo Marcelo Ariel Garzon, sou argentino, casado com Debora Finger, brasileira de São
Paulo, vivemos aqui no kibutz Gvulot desde 1977. Temos 3 filhas: Sigal, de 36 anos, Mor, 32, e Tomm, de 31. Temos 8 netos, 4 de Sigal, 2 de Mor e 2 de Tomm. No dia 7 de outubro, às 6:30 da manhã fomos acordados por mísseis vindo de Gaza, mas logo vimos que era algo muito mais potente. Imediatamente ligamos para Sigal, que mora no kibutz Nir Oz, a 1 km da fronteira. Ela estava grávida de 38 semanas. Disse que estava dentro do mamad (quarto seguro) com as 3 crianças.
Sigal ficou nesse quarto, de cerca de 9 metros quadrados, por 9 horas e meia no escuro total, sem comida, sem água, com as 3 crianças, em um esforço brutal para mantê-las em silêncio. Os terroristas o tempo todo rondavam a casa, atiravam, iam e voltavam, tentando forçar a entrada no mamad, mas por sorte esse tinha um trinco por dentro. Esses quartos protegidos são obrigatórios em toda construção em Israel, mas até 7 de outubro eram pensados como defesa antimísseis. Não havia necessidade de se trancar por dentro. Terroristas nas casas eram impensáveis. Só não eram para o demônio.
Enquanto isto, Dolev, esposo de Sigal, que é enfermeiro voluntário da Escudo Vermelho de David (como a Cruz Vermelha, mas de Israel), saiu do mamad para prestar socorro aos que estavam defendendo o kibutz. Uma catástrofe. Tiroteios, atiravam bombas contra as casas e metralhavam o que sobrava. Ateavam fogo às casas onde havia pessoas trancadas para obriga-las a sair. Se saíssem, eram metralhadas ou raptadas, ou ambos. Dezenas não chegaram a sair, pais e mães morreram queimados junto com seus filhos. Em algumas casas onde entraram, amarraram as famílias, torturaram crianças e pais e depois os assassinavam. (Não se sabe se havia um protocolo: deviam torturar pais diante das crianças? ou vice-versa? Instruções para estuprar, e a quem estuprar – as meninas que vigiavam a entrada dos kibutzim, isso havia; números precisos de quantas pessoas havia em cada casa, para garantir que não escapasse ninguém, também; instruções para atirar nas pernas de quem estivesse dentro de carros e em seguida atear fogo aos carros, tudo isso estava especificado nas instruções encontradas nos bolsos de terroristas mortos. Mas o detalhe de pais ou filhos primeiro, isso faltou. O demônio improvisa.)
Mas a essa altura Sigal ainda não sabia disso, e por sorte, não poderia imaginar. Seu medo, além de todos os outros, era de entrar em trabalho de parto. Um pequeno milagre permitiu que isso não acontecesse. Sigal também não sabia que Dolev havia sido sequestrado, junto com sua irmã, Arbel, e o namorado de Arbel, Ariel. Dolev e Sigal namoram desde a sexta série, quando ambos Tinham 12 anos. Nunca se separaram. Dolev foi criado para doar-se, por isso após colocar sua família dentro do mamad, não pensaria em fazer algo que não fosse dar socorro aos outros.
De Arbel e de Ariel recebemos um pequeno sinal de vida, mas isso faz 5 semanas. (não me atrevi a perguntar que tipo de sinal, qualquer tipo pareceria pouco demais a essa altura). No dia seguinte ao massacre Sigal e as crianças foram levados para Eilat, e lá, 9 dias mais tarde, ela deu à luz a uma nenê saudável. Dolev, que deveria ser o primeiro a segurá-la, o primeiro a sorrir-lhe, não estava. Não está. Aron, o filho de 3 anos, todos os dias pega seu celular de brinquedo e chama, Aba, aba, eifo atá? Lama atá lo bá? (Papai, papai, onde você está? Por que você não vem?)
8.
A região onde ocorreu o massacre é rural, não há cidades. Cerca de 30% da produção agrícola de Israel vem dessa área. Conheço bem muitos desses israelenses. Eles eram pacifistas militantes, que buscavam palestinos na fronteira de Gaza, pacientes de doenças crônicas ou terminais, levavam-nos aos hospitais em Tel Aviv, esperavam que recebessem seu tratamento (gratuito, diga-se de passagem) e os levavam de volta. Esses mesmos pacifistas foram incinerados naquele dia.
Havia hospitais em Gaza, claro, inclusive receberam bilhões – isso, BI-lhões de dólares – que foram transformados em túneis, mísseis, armamento e jaulas para reféns. Enquanto em Gaza se construía uma cidadela do horror embaixo da terra, protegida por hospitais e escolas, do lado de cá da fronteira, movidos pela crença de que quem tem o que perder não irá se explodir e nem aos outros, Israel empregou quase 20 mil palestinos que vinham de Gaza todos os dias para trabalhar na região. Após o ataque, nas roupas dos terroristas foram encontradas até croquis das casas dos judeus, desenhados para facilitar o massacre. Dizemos em alto e bom som que nem todo palestino é terrorista. Mas de onde vieram essas plantas? As câmeras dos kibutzim mostram que no dia 7 de outubro, após os ataques iniciais, chegaram dezenas de SUV’s de Gaza, lotadas de gente de todas as idades. Corriam para saquear as casas. Nem mesmo um velho de bengala privou-se desse deleite. Está ali, tudo gravado. Ele é civil? Ou é terrorista? Ou depende do contexto?
9.
Marcelo nos conduz até a cerca externa da fábrica, onde há um banner enorme com 3 fotos: Dolev, sua irmã Arbel, e Ariel, namorado de Arbel. Lindos, sorridentes, o rosto iluminado. Eles estão aqui comigo desde 8 de outubro. Não podemos esquecer que ainda há 136 reféns, muitos deles arrancados de suas camas. Bebês, adolescentes, uma idosa de 85 anos. (Vivos? Quem sabe?, penso). Sabe-se que enquanto alguns saqueavam as casas, outros arrastavam feridos e mortos para suas caminhonetes. Para serem desfilados em Gaza perante uma horda sub-humana, sob gritos de vitória e de louvor a Alá. Tudo gravado. Tudo orgulhosamente exibido pelas próprias bestas ensandecidas. O demônio baba.
O que podemos fazer para ajudar, pergunto. Israel quer viver em paz. O mundo precisa saber, e não negar, o que houve aqui. Depois de quase 80 anos do que se passou, parece que o mundo não deu voltas. É preciso aprender. Saber que o que aconteceu aqui pode acontecer em outros lugares, que não se enganem.
Nesse momento ele muda de expressão. Menos freio, o olhar passa a deslizar em vez de saltar. A voz flui sem medir as palavras. Uma das coisas que admiro é o Universo. Gosto de olhar as estrelas, o céu, e sempre digo que há tanto para aprender, tantos lugares para se chegar. Creio que a humanidade tem valores que precisa levar a outros lugares, a outros mundos. Não conheço nenhuma religião em que esteja escrito que devemos matar, assassinar, queimar, violar. Esses terroristas tomam a religião para outro lado, completamente. As religiões dizem que devemos formar famílias, devemos nos amar, devemos receber o outro como ele é, não importa que cor de olhos tenha, não importa que cor de pele tenha, não importa nada. Somos humanos. Todos temos ossos, carne, sangue. Espero que apareça um líder – não um Messias, nada sobrenatural, apenas um líder que saiba levar as pessoas para outro lugar, com muito mais valor à vida. Sigal, Dolev, Arbel e Ariel estão comigo desde aquele momento.